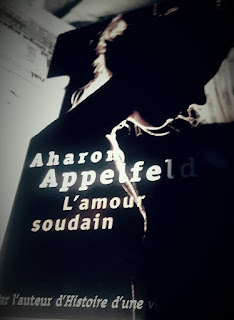Recordar
é ter tanta coisa que temos dentro de nós e decidir trazê-las aos outros. Sentimentos
novos, aprendizagens, amigos, espantos, medos e felicidades.
As
amigas mais antigas que recordo são a Gioconda e a Letícia – que tinha esse
nome porque era o da heroína de O príncipe com orelhas de burro, de José Régio,
porque Régio – amigo do pai delas, o Dr. João Tavares, foi o seu padrinho. Para
nós, ela era a Tiça e mais nada.
Com
elas brincámos eu e a minha irmã mais velha, a Tiça era mais nova do que eu e
acabou por vir a ser amiga da minha irmã mais nova.
Eu
era a do meio e esse lugar tem muitos problemas! Sentimo-nos mal-amadas, nem
grandes nem pequenas com a sensação de que o amor dos pais e dos outros amigos
e família se “fixam” nos outros e não em nós. Um
dia conto a minha parte…
a rua dos Canastreiros
Morávamos
na mesma rua, a casa delas era um pouco mais para cima e era do outro lado da
rua. Podíamos até ver-nos da janela e acenar. Com elas brincámos tardes e
tardes durante anos. Ora no jardim delas quando estava sol, ou
vinham elas para nossa casa que lhes parecia mais “divertida” e aberta. Ao
chegarem, ouvia-se lá em baixo o toque do martelo, e uma de nós descia os dois andares a correr para
lhes ir abrir a porta.
Podíamos ficar na garagem que servia de tudo menos de garagem. Onde se descansava nas tórridas tardes de Verão, com cadeiras de praia e uma mesa, o chão de ladrilho sempre salpicado com água. E foi, ali, por exemplo, que me tornei artista de circo.
Ora pendurada da trave
de uma porta sem porta, de cabeça para baixo, ou em cima duma prancha de lavar
roupa rolando, equilibrada numa panela sem asas.
a Casa Amarela
Nesses tempos da Casa Amarela, passeávamos na Corredoura e o grupo alargou-se com os irmão mais novo delas e a nossa irmã. Aparecia sempre, o Luís Bacharel, bom amigo.
Mais tarde, andávamos já nós todas no liceu, apareceram umas amigas de passagem,
que vinham de Lisboa passar o Verão com parentes.
Carlos Botelho, Lisboa
Lembro a Liginha que chegava
bronzeada, cada ano mais alta, com toilettes novas, cabelo curto ou uma fita larga,
tipo bandelette, a segurar o cabelo
para trás. Um ano até apareceu de luvas brancas de renda.
A
outra era a Rosarinho que estudava num Colégio fora de Lisboa com um nome pomposo
que associo sei lá porquê ao Eça!
Eu
era tímida e talvez me deixasse impressionar por elas, que pareciam trazer
um perfume de fora, de longe. A Lígia tinha um modo afectado de falar com um
grande sorriso de dentes brancos e perfeitos. Viam-se bem porque ela usava um
bâton um pouco mais vivo – nós andávamos ainda pelos tons rosa, meio
disfarçados.
o Plátano, plantado em 1848, pelo Dr. José Maria Grande, cientista
Uma
noite vi chegar a Rosarinho ao jardim do Rossio - não muito longe do venerável e lindo Plátano, com uma saia plissada, branca,
sapatos de salto alto e uma faixa de seda verde como cinto da saia.
Moviam-se
as duas, com grande à vontade, nos seus vestidos novos, frescos, decotados, de cores
vivas.
Eu era um pouco Maria-rapaz, que
adorava andar de sapatilhas e com os vestidos simples de popeline que a minha mãe ajudava a Hermínia a "compor", confesso que as invejei um pouco, certas noites.
fotografias desse Cedro (*)
À
noite, costumávamos sair, depois do jantar, ao Rossio, passear ou sentarmo-nos
debaixo do Cedro da esplanada de Verão, onde serviam boas limonadas com muito
limão e uma casca, bem geladas ou os copos lindos de groselha, cor do rubi.
A
Gioconda e a Tiça apareciam também e também elas viviam o “fascínio” daquelas
duas personagens.
À
tarde, preferíamos ir ao Café Central, do meu avô Casaca, onde havia óptimas “mazagrans” (*) que o Carlos – o mais antigo empregado do avô – trazia em grandes bandejas até
à esplanada do Café. Durante o Verão, o Café "estendia-se" até ao outro lado da rua Direita no meio da Praça dos Correios, debaixo de outro cedro, seguramente...
Havia mesinhas redondas e cadeiras de ferro forjado pintadas de branco.
Praça dos Correios
Mas
essas eram, como disse acima, as amigas de passagem. Acabado o Verão, tudo
voltava à calma da nossa cidade. E nunca mais sabia delas até ao próximo Verão.
Até que deixámos de nos ver.
foto na caderneta do Liceu
Mas,
antes, eu descobrira as meninas do meu Liceu! Devo dizer que o meu Liceu era um palácio maravilhoso, da família Achaioli (em italiano seria Acciaioli...),com escadarias, mosaicos nas paredes, tectos esculpidos.
(Por curiosidade conto aos que ainda não sabem - o Manuel conta a história a toda a gente! Nessas escadas, pois, tinha catorze anos e vinha a descer, tranquila, de olhos baixos e diz ele que logo se apaixonou por mim)
Subindo estas escadas e virando à direita, havia uma biblioteca, forrada de estantes e livros, muito confortável.
Foi no mesmo ano em que fiz o exame da
4ª classe e dispensei do exame ao liceu. Vejo-me, no final do exame, com a roupa que a mãe nos fizera, iguais, que eu achava super-chique: saia rodada e um
bolero de abas redondas, sem botões, e de mangas curtas. Debaixo, uma blusa de seda
cor de marfim, com um bordado na gola.
desenho a lápis feito numa vigilância de exames
Também não esqueci que, ao molhar a caneta no tinteiro, pus logo um
borrão de tinta azul num dos lados do bolero. Só recordo a tristeza que tive e
a Florinda a dizer, para me animar, que saía tudo com leite quente.
Berthe Morisot, Menina do campo com tulipas
As meninas do meu liceu não eram como essas meninas de Lisboa. Eram meninas
simples e vinham dos arredores da cidade. Do alto da Serra de São Mamede, do
Reguengo, do Gavião, das carreiras ou dos Fortios, das Carreiras ou mesmo de Gáfete.
Carreiras, por João Salvador
Eram
meninas do campo, com as carinhas vermelhas do sol ou do frio e muitas vezes no Inverno com as mãos gretadas ou com “frieiras”. As roupinhas delas
cheiravam bem, a ervas do campo, a lavado, tinham o perfume da roupa corada ao
sol. Elas
mesmas me pareciam meninas coradinhas ao sol.
Tive
boas amigas no liceu e recordo tudo com saudade. Algumas sei que desapareceram.
Berthe Morisot, Meninas à janela
A
Helena foi a minha primeira colega de carteira. Recordo a simplicidade dela, o
olhar bom como de certas figuras dos filmes do Walt Disney. A carteira ficava perto da janela e via-se o terraço interior. Às vezes perdia-me a olhar para fora.
Recordo a Helena com um vestido preto, creio que o pai tinha morrido há pouco. Tinha os cabelos
castanhos lisos, muito bem penteados, uma pele clara e uns olhos que me
pareciam tristes e se animavam quando me contava histórias.
Ela adorava contar-me
histórias enquanto esperávamos que os professores entrassem na aula. E eu adorava ouvi-las...
Eram
histórias de fantasmas e de mortos, coisas que eu ouvia com um ar incrédulo mas
encantado, tal como as ouvira, noutros tempos, contadas pela Hermínia, a nossa
costureira, que tinha um dom de contar extraordinário. À braseira,
na cozinha, com a Florinda e a Rosalina, essas histórias de lobisomens
e de cães solitários uivando à lua, metiam medo.
"cães solitários uivando à lua"
Tal
como a Hermínia, a Helena abria muito os olhos para me assustar e criar o suspense.
Essa companheira de carteira chamava-se Maria
Helena de Deus Almeida. Nunca me esqueci do nome completo dela porque foi uma boa amiga e senti saudades dela.
Ensinava-me
a esfregar o dedos na costa da mão, com força, e dizia com um ar misterioso:
-
Cheira a minha mão! Sabes a que cheira?
Eu
cheirava, curiosa como sempre. Era um cheiro estranho e desconhecido.
-
O que é? perguntava interessada.
-
É o cheiro dos mortos, explicava com voz soturna.
Eu
ficava na dúvida. Seria verdade que os mortos cheiravam assim? Nunca tinha
visto um morto.
-
É como a carne morta, explicava, com o ar mais tranquilo do mundo.
-
è este cheiro mesmo…
-
De verdade?
Hoje,
ao lembrar-me dela, tento repetir os mesmos gestos que fazíamos, reencontrar o
cheiro dos mortos. Esfrego os dedos na costa da mão. Não me cheirou a morto nem
a nada. Talvez me tenha cheirado a creme ou a água de rosas – coisas que não
usávamos nessa altura. Sorri. E foi o cheiro do creme que me fez pensar nela.
Como
saber o que lhe aconteceu? Saberei alguma vez o que foi a vida da minha
companheira de carteira nesse primeiro ano de Liceu? Nunca mais nos vimos. Pensava
muitas vezes por onde andaria? o que teria estudado?
Via-a
com os traços desta figura do pintor holandês Jacob Maris, “Menina a coser”.
O mesmo sorriso suave, o jeito da cabeça inclinada, neste perfil tão bonito
e puro. E as casas brancas ao longe…
E,
depois, pensava: e as outras? Onde andam as outras “meninas” que perdi de
vista? O que fizeram? Foram felizes? Onde vai isso tudo, meu Deus…
Dito
isto, confesso que tenho uma surpresa para lhes contar!
Um
final feliz, diriam nos romances românticos. E ponho-me a pensar: o mundo que tanto
corre e gira e roda; o mundo que é tão vasto quanto efémero, a vida que julgamos
eterna, ara sempre e dura um suspiro ou o tempo de uma folha de Outono cair - como
lembram os Salmos.
Afinal,
não foi esse mundo que gira e corre que nos fez reencontrar. Foi sim, o mundo
substituto do real, o mundo virtual – esse mesmo que nos vai prendendo com os
seus tentáculos enganadores e nos “encanta” enquanto nos pode”esmagar”, pois
foi nesse mundo do Facebook que há dias recebi um pedido de amizade que me fez pensar na minha cidade.
foto do amigo desaparecido, José Fernando
O nome era igual ao dela. Aceitei. Na mensagem que me enviou, escreveu mais ou menos
isto : ”Dra. Maria João Falcão, eu fui a
sua colega de carteira no Liceu de Portalegre. Queria dizer que gosto do que
escreve”, etc etc”.
Eu
desatei a rir sozinha! Depis contei ao Manuel. Ele sabia quantas vezes lhe falara dela. Coisa extraordinária na verdade,
pois, meses antes, ao escrever uns Apontamentos: “O meu Pai e os figos de Setembro”.
Demorei-me, longamente, nesse tempo de
Liceu: as idas a comprar bichinhos da seda à rua do Sapateiro, as aulas de Francês com a D. Lucinda e o nosso 'esforço' em pronunciar o ‘ü’ francês sem dizer ‘iú’…
Comovi-me quando lhe respondi em duas ou três linhas, apressadas, a dizer que pensara tanto
nela sempre - que era impossível que não nos encontrássemos. Lá fora, a nossa árvore, frente à casa no nosso 4º andar alto, um belo salgueiro, pareceu-me estar de acordo. Lembra-me os salgueiros da quinta dos meus pais, hoje deitados abaixo.
Stefan Zweig, o conto Xadrez
Claro que a proibi de me
tratar por 'doutora' nem nada dessas coisas cerimoniosas. Que me tratasse por tu
como nos velhos tempos, em que estávamos as duas sentadas na mesma carteira a conversar da vida e da
morte. E do xadrez que é o destino que jogamos sem saber jogar...
a Maria Helena
Para
mim ela é a minha primeira colega de carteira, a minha companheira de entrada
no mundo do Liceu!
Vamos encontrar-nos, lá para o final do mês de Setembro Ainda não combinámos
onde nem quando, mas será já no Outono!
Tenho já uma ideia do lugar!
Depois, depois…digo! E prometo pôr as fotografias no Facebook!
(*) fotos antigas do Cedro da esplanada de Verão, que pedi emprestadas ao blog Largo dos Correios.
(**) Palácio Achaioli, no blogue Diário de bordo